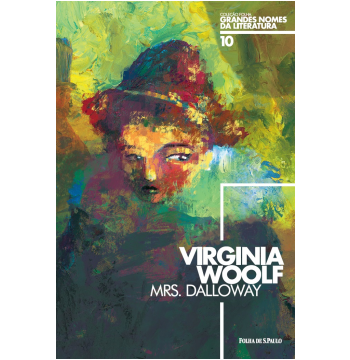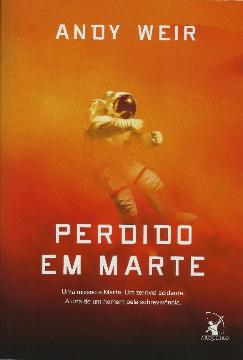Título da edição em português: Mrs. Dalloway
Autora: Adeline Virginia Woolf
Tradução: Gabriela Maloucaze
Editora: Folha de São Paulo
Copyright: 2016
ISBN: 978-85-7949-279-2
Bibliografia da autora (incompleta) – romances: A Viagem, 1915; Noite e Dia, 1919; O Quarto
de Jacob, 1922; Mrs. Dalloway,
1925; Ao farol (Rumo ao Farol), 1920;
Orlando, 1931; As Ondas, 1931; Os Anos,
1937; Entre os Atos, 1941. Contos: Kew Gardens, 1919; Monday or Tuesday, 1921; A
Casa Assombrada, 1944; Mrs.
Dalloway’s Party, 1973; The Complete
Shorter Fiction, 1985; A Casa de
Carlyle e Outros Esboços, 2003. Biografias: Flush: Uma Biografia, 19336; Roger
Fry: A Biogrphy, 1940. Ensaios: Modern
Fiction, 1919; O Leitor Comum,
1925; Um Teto Todo Seu, 1929; On Being III, 1930; The London Scene, 1931; The
Common Reader: Second Series, 1932; Três
Guinéus, 1938; The Death of The Moth
and Other Essays, 1950; Granite and
Writing, 1958; Books and Portraits,
1978; Women and Writing, 1979; Collected Essays (em quatro volumes).
Teatro: Freshwater: A Comedy, 1976.
Adeline Virginia Woolf nasceu em
Kensington, Middlesex, em 25/01/1882. Foi ensaísta, escritora, editora – uma
das mais importantes figuras do modernismo britânico. Era membro do Grupo de
Bloomsbury, claramente de oposição aos valores da Era Vitoriana. Virginia
(nascida com o sobrenome Stephen, substituindo-o por Woolf ao se casar com
Leonard Woolf, em 1912), tinha três irmãos: Vanessa, Thoby e Adrian Stephen,
além de uma meio-irmã, filha do primeiro casamento de seu pai, Laura Makepeace
Stephen, além de mais três meio-irmãos, filhos do primeiro casamento de sua mãe
com Herbert Duckworth, a saber: George, Stella e Gerald Duckworth.
Virginia não frequentou a escola
formal, tendo recebido uma educação esmerada do pai, Leslie Stephen. Em sua
casa, ele mantinha uma biblioteca muito boa, o que criou o ambiente eletivo ao
surgimento da escritora. Joseph Conrad, Jane Austen, o filósofo Montaigne,
Joyce, Defoe, Sterne e os russos Dostoiévski e Tólstoi eram escritores lidos
por ela. Junto com o marido, Leonard Woolf, fundou a editora Hogarth Press,
tendo sido responsável pela publicação de autores como Katherine Mansfield e T.
S. Eliot.
Cedo Virginia Woolf apresentou
problemas psicológicos, com surtos de depressão e, mais tarde, sofrendo do que
hoje seria diagnosticado como “transtorno bipolar”. Há suspeita de que, na
infância, ela teria sofrido abusos sexuais incestuosos. Infelizmente, numa
dessas crises de bipolaridade suicidou-se em Lewes, Sussex, em 28/03/1941,
deixando, como se vê em sua bibliografia acima, uma obra literária consolidada
e bastante produtiva.
Mrs. Dalloway é minha primeira incursão na obra da escritora
inglesa. Seu primeiro trabalho, entretanto, é o romance A Viagem, de 1915 (Mrs. Dalloway
fora publicado em 1925). É um livro extraordinário, escrito a partir de um
enredo extremamente simples: numa quarta-feira de junho, Clarissa Dalloway dará
uma festa à noite e passa o dia ocupada com o evento; pela
manhã, visita várias lojas do centro de Londres, à procura de objetos, utensílios para a sua festa. Enquanto
isso, fatos do passado e uma série de ilações psicológicas têm lugar enquanto
ela prepara a recepção.
Sempre me impressionam estes
enredos minimalistas; O Velho e O Mar,
de Ernest Hemingway é outro exemplo. Prova de que não é necessário ter um
enredo cheio de voltas e reviravoltas para se obter uma obra-prima. É o como o autor/autora trabalha o material
que tem em mãos.
Mas, retornando, o romance Mrs. Dalloway se inicia da seguinte
forma:
“Mrs. Dalloway disse que ela mesma compraria as flores. Sim, pois Lucy tinha trabalho o suficiente. As portas seriam tiradas das dobradiças, os homens de Rumpelmayer estavam vindo. E então, pensou Clarissa Dalloway: Que manhã! Fresca como se fosse presente para crianças na praia.” (página 5)
Virginia Woolf se notabilizou por
ser uma escritora de vários recursos estilísticos; é constantemente apontada
como uma das criadoras do chamado fluxo de
consciência, isto é, a representação escrita da complexidade do pensamento
humano, no qual o raciocínio lógico é entremeado por divagações momentâneas, exibindo
um processo de associação de ideias:
“O saguão da casa estava frio como uma cripta. A Mrs. Dalloway levou a mão aos olhos e, quando a empregada fechou a porta, e ela ouviu silvo das saias de Lucy, sentiu-se como uma freira que deixou o mundo e sente dobrarem-se ao seu redor os véus familiares e a resposta a velhas devoções. A cozinheira assobiou na cozinha. Ela ouviu o teclar da máquina de escrever. Era sua vida, e curvando a cabeça sobre a mesa, ela se dobrou sob aquela influência, sentiu-se abençoada e purificada, dizendo a si mesma, ao pegar o bloco com o recado telefônico nele, como momentos como esse são brotos na árvore da vida, são flores da escuridão, ela pensou (como se alguma rosa adorável tivesse florescido somente para ela); nem por um momento ela acreditou em Deus. Mas mais ainda, ela pensou, pegando o bloco; deve-se retribuir na vida diária aos criados, sim, aos cachorros e canários, acima de tudo a Richard, seu marido, que era a base disso – dos sons alegres, das luzes verdes, da cozinheira assobiando, pois a Mrs. Walker era irlandesa e assobiava o dia inteiro –, deve-se retribuir esse depósito secreto de momentos sublimes, ela pensou, levantando o bloco, enquanto Lucy ficava ao seu lado, tentando explicar como “O Mr. Dalloway, madame” – Clarissa leu no bloco de recados, “Lady Bruton deseja saber se o Mr. Dalloway almoçará com ela hoje.” (página 30)
Aliás, é impressionante como
nossa autora passa do discurso direto (diálogo, em que cada personagem fala a
seu turno) para o diálogo indireto (alguém nos conta o que outros personagens
falaram) e para o diálogo indireto livre (como no diálogo indireto simples, mas
sem as indicações verbais como ‘disse ele’, ‘afirmou ela’).
São dois eixos narrativos. De um
lado, temos Mrs. Dalloway com suas recordações do passado e suas percepções
psicológicas do presente; de outro, o personagem Septimus Warren Smith, que
vive mergulhado em dolorosas recordações da guerra, na qual perdera seu amigo
Evans. E – mais um aditivo – surge Peter Walsh, que volta da Índia e que é apaixonado
por Mrs. Dalloway.
O casamento da protagonista com
Richard Dalloway é um casamento de conveniência, isto é, ela não o ama, mas
ele pode lhe dar a segurança e a projeção social desejada por ela. Ao
contrário, Peter Walsh jamais poderia lhe dar tais coisas. Mrs. Dalloway tem
uma filha de dezessete anos, Elizabeth, que vive às turras com a empregada,
Doris Kilman. Elizabeth sonha com a possibilidade de fazer escolhas pessoais,
como ser médica, fazendeira, enfim, poderá escolher o que quiser. É a nova
geração que chega, modificando aquela moral e costumes herdados da rígida Era
Vitoriana.
O romance se constitui numa
crítica ácida à sociedade da época, vista pela narradora como decadente
(lembrem-se, estamos no período entre guerras, cheio de modificações e crises):
“Talvez fosse uma oferenda pela própria oferenda. De qualquer forma, era seu dom. ela não tinha mais nada da menor importância; não podia pensar, escrever, nem mesmo tocar piano. Ela confundia armênios e turcos; amava o êxito; detestava o desconforto; precisa que gostassem dela; falava oceanos de bobagens: e até hoje, se lhe perguntasse o que era o Equador, ela não saberia. De qualquer forma, um dia vinha depois do outro; ver o céu, andar no parque; encontrar Hugh Whitbread; e então de repente entrava Peter; então aquelas rosas; era suficiente. Depois disso, como era inacreditável a morte! – que tudo tivesse que terminar; e ninguém no mundo inteiro conseguiria saber como ela adora tudo; como a cada instante...” (página 118)
Este período entre guerras teve
um fato importante: a quebra da bolsa de Nova York, a qual afetou o mundo todo.
E nesta sociedade frívola, de mulheres fúteis, mas também de muita repressão,
sobretudo a repressão sexual, surgem relações homoafetivas; não chegam a termo,
é bem verdade, mas elas estão presentes no livro, trazendo infelicidade ao
ponto de um dos personagens, em crise psíquica por este motivo, consideravelmente aumentada por uma neurose
de guerra, terminar por se suicidar.
Somente uma personagem parece
gozar de maior liberdade, neste mar de fortes convenções e essa é exatamente
Sally Seton, amiga de infância de Clarissa Dalloway:
“— Voltarei – ela disse, olhando seus velhos amigos, Sally e Peter, que estavam dando as mãos, e Sally, sem dúvida lembrando o passado, estava rindo. Mas de sua voz tinha sido tirada a velha riqueza arrebatadora; seus olhos não brilhavam como costumavam quando ela fumava os charutos, quando ela passava pelo corredor para buscar sua esponja sem sequer uma peça de roupa e Ellen Atkins perguntara: Mas e se os cavalheiros a vissem? Mas todos a perdoavam. Ela tinha roubado um frango da despensa porque estava com fome à noite; fumava charutos no quarto; tinha largado um livro inestimável no bote. Mas todos a adoravam (a não ser talvez o Papai). Era seu entusiasmo; sua vitalidade – ela pintava, escrevia.” (página 175)
Por todo o exposto, Virginia Woolf
é, sem dúvida, uma grande escritora, atenta às condições de seu tempo. E Mrs. Dalloway é destas obras
inesquecíveis, merecedoras de várias leituras. Com você viu, nossa escritora
tem uma capacidade admirável de nos fornecer detalhes minuciosos, de modo a
caracterizar bem a sociedade da época, que ela se propõe combater.
Há quem veja influência do
irlandês James Joyce na escrita de Virginia Woolf – frequentemente, tal
comparação tem sentido pejorativo. O motivo, penso eu, é débil: baseia-se na
semelhança de utilização do tempo e no uso da técnica do fluxo de consciência.
Ambos os romances, Ulisses e Mrs. Dalloway fazem transcorrer suas
narrativas no espaço comprimido de um dia e privilegiam a representação do
pensamento descontínuo. Não obstante, Virginia não gostava do trabalho de
Joyce, tendo se manifestado em seu Diário
que “cada vez gosto menos de Ulisses – isto é, cada vez o acho menos
importante; e nem sequer me preocupei conscientemente em lhe perceber os
sentidos. Graças a Deus que não tenho que escrever sobre o livro.”
Por último, para quem deseje um
aprofundamento biográfico da autora, há bons livros, como A Medida da Vida, de Herbert Mader. Parece que a obra biográfica de
referência é Virginia Woolf, de Hermione
Lee, sem tradução em português.