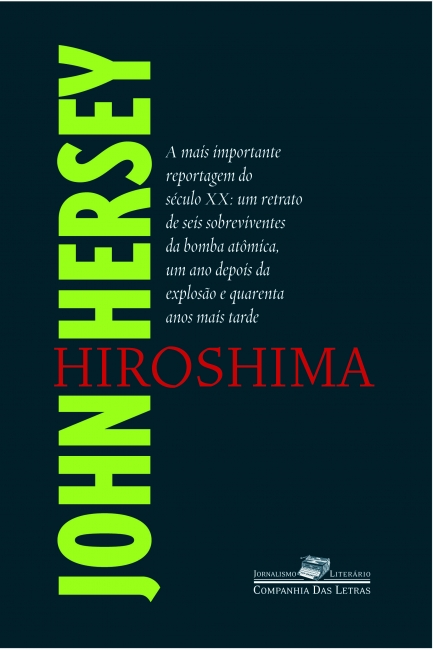Título em
português: O Vidiota
Autor: Jerzy
Kosinski
Editora:
Ediouro
Tradutores:
Laura Alves e Aurélio Barroso Rebello
Copyright:1970
ISBN:
85-00-01742-2
112 páginas
Gênero:
Romance
Origem:
Literatura Americana
Bibliografia
do autor: The Future is Ours, Comrade: Conversations with the Russians, 1960;
No Third Path, 1962; The Painted Bird, 1965; The Art of The Self: Essays à Propos
Steps, 1968 ; Steps, 1968 ; Being There, 1970; By Jerzy Kosinski:
Packaged Passion, 1973; The Devil Tree, 1973; Cockpit, 1975; Blind Date, 1977;
Passion Play, 1979; Pinball, 1982; The Hermit of 69th Street, 1988; Passing By:
Selected Essays, 1962-1991, 1992; Oral Pleasure: Kosinski as Storyteller, 2012.
Filmografia: Being There, 1979; Reds, 1981; The Statue of Liberty, 1985; Lodz
Ghetto, 1989 e Religion, Inc., 1989.
O
céu escurecia rapidamente, puxando sobre si um cobertor de nuvens escuras. Empolgado
com a leitura deste O Vidiota, eu não
prestava atenção à tempestade que se anunciava. Jerzy Kosinski conseguia a
proeza de me fazer deixar o mundo real lá fora e me envolver com o pequeno
volume à mão, comprado em um sebo. Tinha feito o percurso inverso, há muito
tempo assistira ao filme Muito Além do Jardim, com Peter Sellers, adaptado do livro – um filme nada comercial e só
agora, ao caminhar para o fim do ano de 2018, tomava contato com a história
escrita. Que livro genial! E enquanto o lia, a chuva torrencial chegava,
carregando sombrinhas das mesas do clube onde estava, jogando mesas na piscina
e promovendo uma verdadeira correria por lugares abrigados. Havíamos passado
por uma manifestação política, militantes apaixonados e disse à minha esposa,
sentada ao lado: não poderia ter encontrado fato melhor para contextualizar o
livro. Vocês verão porquê.
Jerzy Kosinski nasceu na cidade de
Lódz, Polônia, com o nome de batismo de Joséf Lewinkopf, em 14/06/1933 e
faleceu em 03/05/1991, aos 57 anos, em Manhattan, Estados Unidos. Ele era filho
de pais judeus e viveu na parte central da Polônia, sob o nome falso dado pelo
pai; Joséf adotou aquele nome – Jerzy Kosinski. Um padre católico-romano deu-lhe
um certificado de batismo e a família Lewinkopf conseguiu sobreviver ao
Holocausto da Segunda Guerra Mundial, contando com a ajuda de judeus poloneses.
Kosinski diplomou-se pela Columbia
University e tornou-se cidadão americano no ano de 1965. Casou-se em 1962, mas
divorciou-se quatro anos depois. Mary Hayward Weir, sua ex-esposa, morreu em
1968, de câncer no cérebro. Jerzy contraiu várias doenças (os dados biográficos
consultados não dizem quais) e terminou por se suicidar.
Foi acusado de plágio e de falsificar
fatos ocorridos. Ao escrever The Painted Bird (O Pássaro Pintado), uma narrativa de guerra, Jerzy teria adulterado
dados ao compor sua narrativa, pois relata uma série de torturas e crueldades
perpetradas pelos judeus poloneses, quando estes o teriam ajudado a sobreviver.
Mais tarde, recebeu a acusação de plágio por Being There (O Vidiota). Para o caso de plágio, vou usar a argumentação de um
ensaio de Phillip Roth.
Segundo a crítica da época, Jerzy
Kosinski teria plagiado um trabalho em polonês intitulado A Carreira de Nikodem Dyzma, de 1932. Segundo Roth, o livro não foi
publicado em inglês, portanto, ele diz não poder comparar. Mas uma
justificativa para a originalidade de Kosinski é que aquele livro polonês fora
escrito em 1932, época em que a televisão ainda não existia. “Kosinski pode ter
tomado emprestada a premissa do idiota cujas declarações simplórias são
interpretadas como profundezas, mas ele teve que moldar consideravelmente essa
premissa para ajustar-se a seus propósitos”, conclui Roth. Acertadamente,
penso.
Este O Vidiota é genial. Narrativa curta, de apenas 112 páginas, aí
incluídos um posfácio muito interessante assinado por Xico Sá, e alguns dados
biográficos do autor. E desejo fazer uma abordagem diferente, caro leitor. Primeiro,
vamos ao enredo do livro.
Chance é o protagonista do livro, narrado
a partir de um narrador onisciente. Ele trabalha como jardineiro na casa onde
vivem o Velho (personagem sem nome e de quem se sabe pouca coisa além de ele não
poder se locomover por ter fraturado a bacia), e uma empregada. Chance mora num
quarto com porta para o jardim, a empregada lhe traz alimentação e ele tem, à
sua disposição, um aparelho de televisão. Nunca sai da casa. Não possui
amizades, não tem documentos, não sabe ler nem escrever – enfim, vive
enclausurado na casa do Velho. Acontece que o dono da casa morre e Chance tem
de sair do local. É quando acontece um acidente que mudará sua vida: um
motorista deu ré num carro luxuoso em cima de Chance, que tem sua perna
presa e machucada. A dona do carro, uma mulher rica, o leva para casa dela e
trata dele. Aí começam as “peripécias” de Chance, o jardineiro (gardener, em
inglês).
A madame entende mal seu nome e passa
a chamá-lo de Chauncey Gardiner – sobrenome comum em inglês e fonicamente
semelhante a “Chance, gardener”.
Aqui entra a abordagem diferente. Vamos
assumir um leitor que não conhecesse nada da obra, nunca tenha ouvido falar
deste O Vidiota (não é o meu caso, há
muito tempo venho procurando este livro). A minha tese é que o livro – qualquer livro – é que propõe a
forma como deve ser abordado, isto é, fornece pistas para que o leitor
saiba como deve ler o texto.
Estamos lendo sobre um personagem
incomum: desde que ele consegue se lembrar, sempre trabalhou ali na casa do
Velho; não tem registro de empregado, não recebia um salário, não saía para
lugar nenhum. Não tem documentos que provem legalmente que ele exista. Não sabe
ler, não sabe escrever; na verdade, tudo o que ele sabe é cuidar do jardim. Raramente
via o tal patrão, já que ele tinha limitações físicas para se locomover. O homem,
entretanto, deixava que ele escolhesse a roupa do guarda-roupa dele, Velho, que
Chance quisesse.
Um personagem tão estranho assim,
numa história tão plana... caro leitor, leia o texto com outros olhos, mais
perquiridores! O sentido da narrativa, com absoluta certeza, não está na
superfície. O texto tem cara de parábola, tem cheiro de parábola. Ora, este
gênero textual é caracterizado por uma linguagem figurada, com coisas que às
vezes nos parecem meio incoerentes.
Meu conhecimento de mundo me diz
que dificilmente eu conheceria uma pessoa assim, tão sem vestígios; órgãos do
governo, bem aparelhados, não conseguiram detalhes da vida de Chance. Nenhum parente.
Sequer uma testemunha de que ele, realmente, tenha trabalhado para o Velho.
Por aí vamos. Chance só diz coisas
sobre plantio, flores, poda, adubação; seu mundo imediato é o jardim da casa do
Velho. Ele não tem contato com o mundo lá fora, a não ser como representado
pela tela da televisão. Sempre que perguntado sobre alguma coisa – e ele só
sabe o que tenha visto pela tevê e, mesmo assim, seu parco entendimento dos
fatos corriqueiros da vida é limitado –, Chance dá uma resposta vinculada ao
seu mundo vegetal:
“O Sr. Rand tirou os óculos, soprou nas lentes e poliu-as com o lenço. Depois recolocou os óculos e olhou para Chance em expectativa. Chance percebeu que a resposta não fora satisfatória. Ergueu o olhar e encontrou o de EE.
— Não é fácil obter um lugar adequado, um jardim onde se possa trabalhar sem interferências e cultivar conforme as estações. Não existem mais muitas oportunidades. Na TV... – vacilou e prosseguiu – nunca vi um jardim. Vi bosques e florestas, às vezes uma ou outra árvore. Mas um jardim onde eu possa trabalhar e ver crescer o que plantei... – sentiu-se triste.
O Sr. Rand debruçou-se na mesa em direção a Chance.
— Muito boa a explanação, Sr. Gardiner. Importa-se se eu o chamar de Chauncey? Um Jardineiro! Não é a descrição perfeita do verdadeiro homem de negócios? Alguém que torna produtivo um solo pedregoso, com o trabalho das próprias mãos, que o rega com o suor do próprio rosto, que cria um lugar de valor para a sua família e para a comunidade. Sim, Chauncey, que metáfora excelente! Na verdade, um produtivo de negócios é um operário na sua própria vinha!
O entusiasmo com que o Sr. Rand reagiu aliviou Chance.: tudo ia bem.
— Obrigado, Sr. Rand – murmurou ele.” (página 34)
Daí para frente, todo o discurso
sobre jardins, emitido por Chance, será levado à conta de metáforas brilhantes,
sendo ajustadas pelos interlocutores de acordo com suas conveniências. Como quando,
no programa televisivo de entrevistas, Esta
Noite, sobre questões econômicas dos Estados Unidos, nosso personagem diz:
“— Em um jardim tudo cresce... mas antes precisa murchar; a árvore tem de perder as folhas para que nasçam novas e ela fique mais grossa, mais forte e mais alta. Algumas árvores morrem, porém novos rebentos as substituem. Os jardins exigem muitos cuidados. Mas se amarmos o nosso jardim, não nos cansaremos de trabalhar nele e esperar. Então, na estação adequada, certamente o veremos florir.” (página 54)
O entrevistador do programa avalia
entusiasticamente a atuação de Chance:
“— Obrigado, muito obrigado, Sr. Gardiner. É de espíritos como o seu que este país tanto necessita. Esperemos que ele ajude a anunciar a primavera da nossa economia. Mais uma vez obrigado, Sr. Chauncey Gardiner, financista, conselheiro presidencial e um verdadeiro estadista!” (página 54)
Hã, como assim? Nosso personagem
não era um jardineiro, cuja experiência se resumia a cuidar de um jardim? Como
um analfabeto pode ser alçado à categoria de financista, conselheiro presidencial, estadista?! Ou não entendi bulhufas, ou o texto quer me dizer outra
coisa...
Elevado à categoria de mito, Chance (rebatizado para Chauncey
Gardiner) tem todas as suas falas transformadas em geniais metáforas
econômicas. Ou seja, a partir da construção de mito, suas atitudes e seus discurso jamais serão postos em dúvida –
as pessoas sempre partirão da sua condição de mito para validar o que é dito. E
tanto é assim, que o autor nos deixa uma pista, citando, muito apropriadamente,
a autoridade de Shakespeare (outro
mito!):
“— Apreciei enormemente a franqueza do seu pronunciamento pela televisão. Muito hábil, muito hábil mesmo! Ninguém precisa usar de excessiva delicadeza para explicar as coisas, não é? Quero dizer, pelo menos quando se fala para idiotas videomaníacos. Afinal, eles querem mesmo é “ser punidos por um deus, não por um homem igualmente fraco”, não é? (alusão a Shakespeare, Coriolano, Ato III, Cena 1- N. dos T.)” (página 71)
Desta forma de abordagem, uma historinha
aparentemente incoerente, cheia de senões, com um personagem bobalhão, cercado
de um bando de idiotas se identifica conosco, somos nós mesmos aqueles idiotas videomaníacos, manipulados pelos meios de comunicação. Antes, era somente
a televisão e o rádio; hoje, contamos com a acessibilidade das mídias sociais. Somos
manipulados com nossa própria adesão. Estamos no reino das fake news, das fofocas eletrônicas
via Facebook, Whatsapp e o que mais vier.
Como analisa Xico Sá, em seu
posfácio ao livro, Chance é
“Um homem parado, que mimetiza o mundo vegetal e parece ter a propriedade de clorofilar-se de tão... comum, homem que se confunde com a paisagem. De tão entregue à desacontecência do trabalho e dos dias.” (página 103)
Eis porque, amigo leitor, adiei o
término desta leitura para ler, primeiro, Bartleby,
O Escriturário. Ambas as obras têm em comum o mundo de alienação a que nos
relegamos com nossa própria conivência. Os dois personagens primam pela não
ação: Bartleby, pela falta de sentido para sua vida; Chance, pela completa falta
de interação com o mundo. Chance ficaria melhor como ornamentação, num belo
vaso chinês da dinastia Ming:
“No entanto, sem sombra de dúvida, e eu me responsabilizo por isto, que ele nunca se envolveu em qualquer problema legal com qualquer indivíduo, nem com qualquer organização, empresa ou agência particular ou pública, estadual ou federal. Jamais causou qualquer acidente ou prejuízo e, além do acidente com os Rand, nunca se envolveu como terceiro em qualquer dessas situações. Jamais foi hospitalizado; não possui seguros e, por falar nisso, é provável que não tenha qualquer outro documento ou identificação pessoal. Não dirige automóvel, não pilota avião, e em seu nome nunca se emitiu licença alguma. Não tem cartões de crédito, nem talões de cheques, nem cartões de visita. Não é proprietário neste país... Sr. Presidente, nós bisbilhotamos a respeito dele em Nova York: não fala de negócios nem de política, ao telefone ou em casa. Tudo o que faz é assistir TV: no seu quarto o aparelho está sempre ligado: há um barulho constante...” (página 97)
Leitura pertinente aos tempos em que vivemos, com impressionante atualidade da mensagem.
Recomendo, mais que recomendo este O Vidiota; pena que não haja, pelo menos
que eu saiba, uma nova edição nas livrarias, quer físicas, quer virtuais. Pena;
estão perdendo a oportunidade de causar reflexões, livrarias e editoras.
Mas, afinal, quem se interessa em
fazer pensar?

![Bartleby, o escriturário (Novelas Imortais) por [Melville, Herman]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/614e51TS6-L.jpg)